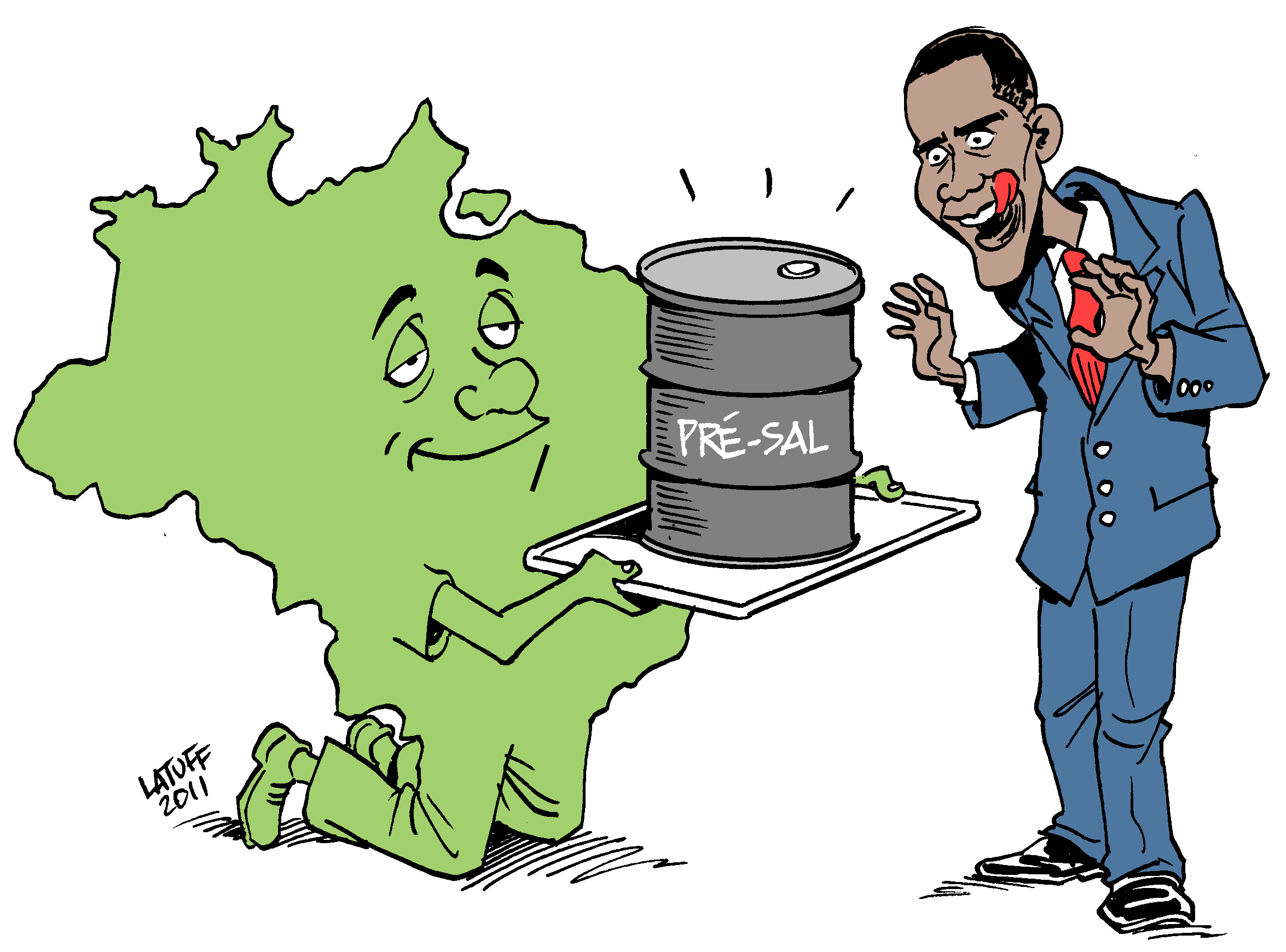O leitor razoavelmente atento de jornais há de reconhecer que a narrativa das manifestações produzida pela grande mídia foi desde o início, e permanece até hoje, estruturada sobretudo em torno dos problemas da violência (depredação, vandalismo) e do transtorno (caos no trânsito, prejuízo do direito de ir e vir), tendo a figura do “mascarado” como ator principal e a polícia como coadjuvante. Esta narrativa, no entanto, não era inescapável ou obrigatória; os eventos não “falam” por si mesmos, ao contrário, “são falados”. Se este modo de falar sobre protestos populares parece natural, é somente porque já nos habituamos, porque deixamos de perceber que é fruto de uma escolha, e uma escolha bastante particular. Toda a questão então está em observar os efeitos que uma representação assim construída deverá gerar, os propósitos a que servem, e o que poderia revelar sobre aqueles que a formulam.
Primeiro, notemos a inversão que a narrativa realiza. Os protestos são apresentados não como atos fundamentalmente políticos, mas como episódios de violência que produzem desordem e imobilidade, suspendendo o direito de ir e vir da maioria – quando na verdade são justo o oposto, isto é, são atos políticos que denunciam a violência de um modelo de transporte público que, estruturado em benefício de poucos empresários, cria a imobilidade que reduz o direito de ir e vir da maioria a um pesadelo diário. Já se vê a que desígnio uma tal inversão serve. A maneira mais eficiente de esvaziar o conteúdo político de protestos populares não é ignorá-lo, fingir que não existe – o que aliás seria impossível –, mas aproveitar as imagens dos eventuais atritos produzidos e repeti-las ad nauseam como se fossem a essência mesma da inspiração que supostamente os animam, até que se complete a operação metonímica. O “mascarado” aparece então como óbvio candidato a estereótipo: não tendo um rosto identificável em sua singularidade, adequa-se perfeitamente ao papel de tornar-se o lugar abstrato de um “superávit ilícito de significado” (Jameson) cuja função será a de demarcar as fronteiras simbólicas entre o normal e o anormal, o aceitável e o repulsivo, a política e a violência.
Mas a própria violência da qual os mascarados seriam a face mais visível é um sintoma da falência da política. Eis o segundo fechamento operado pela narrativa midiática das manifestações: ao fornecer o estereótipo que organiza o discurso do senso comum em torno da (falsa) oposição entre política e violência, ela impede a compreensão de que, quando a linguagem da política passa a operar num vazio auto-referido e impermeável, quando deixa portanto de cumprir sua função de constituir-se como lugar de realização do interesse público, alguma ruptura talvez seja necessária para retomar a possibilidade de efetivamente fazer política. Haverá, é claro, quem se apresse em localizar aí o germe do extremismo que, se não for contido, leva à loucura autoritária. Seria o caso então de lembrar que os fundamentos da desobediência civil não estão na obra de Lênin, mas na de Locke.
O que não se observa, o que fica esquecido pela condenação automática e legalista do vandalismo, é precisamente o reconhecimento do contexto, político sobretudo, que produz o vandalismo. Não há de ser coincidência que um dos beneficiários deste esquecimento seja a própria imprensa. Ora, sabemos que a identidade é construída socialmente, através de um processo dialético em que o reconhecimento desempenha um papel fundamental; todos nós, indivíduos ou grupos, precisamos que o olhar do Outro nos devolva uma imagem de nós mesmos para nos constituirmos enquanto sujeitos. Pois bem: elevar o vandalismo ao centro das atenções, fazendo das pedras jogadas e vidraças quebradas e ônibus queimados o maior destaque de um momento de importância histórica, já é um atestado de grandeza. Como tal, serviu também para assegurar aos “vândalos” que eles realmente existem, que constituem uma força a ser reconhecida. De que outra forma poderiam ter sua identidade grupal confirmada com tanta certeza? No dia seguinte ao maior protesto nas ruas desde as “Diretas Já”, o jornal O Globo anunciava em letras garrafais: “SEM CONTROLE”. Que o elogio se faça pelo avesso não diminui o quanto de exaltação ele transporta. Como assim sem controle? O sujeito oculto da manchete é o Estado, que, surpreendido pela força do povo nas ruas, teria perdido seu domínio. Nova inversão: quem quer que tenha ido à manifestação do dia 20 de junho sabe que a polícia carioca não apenas esteve o tempo todo no controle da área de conflito, próximo ao prédio da Prefeitura, como também desandou a perseguir e brutalizar quem estivesse tentando voltar para casa ou simplesmente tomando uma cerveja nos bares de bairros vizinhos, como Lapa, Glória e Laranjeiras. Daí podermos enxergar nesta manchete um ato falho, a narrativa midiática traindo a si própria ao abrir a possibilidade da leitura a contrapelo – o “sem controle” referido aos excessos da atuação da polícia, não à sua falta. De qualquer forma, se a manchete do Globo interpela o Estado, denunciando sua debilidade, acusando o fracasso em cumprir seu papel elementar de exercer o poder sobre o território, é apenas para lhe exigir uma resposta ainda mais dura na próxima vez que o povo sair às ruas em protesto. Um ótimo e infeliz exemplo do que Foucault tinha em mente quando afirmou que o discurso não apenas representa uma realidade, mas constrói esta realidade no processo de representá-la.
Uma das maneiras mais eficientes de representação-construção da realidade é o uso de metáforas. A eficiência decorre da capacidade que as metáforas possuem de nos fazer entender e experimentar um tipo de coisa nos termos de outra, ou como se fosse outra. Metáforas não são apenas ornamentos de linguagem destinados a criar efeitos poéticos. Nossos processos cognitivos são em larga medida metafóricos, isto é, o modo pelo qual estruturamos o sistema de conceitos que usamos para lidar com a realidade é em si mesmo metafórico. Se as metáforas informam nossa percepção do mundo, segue-se que elas também contribuem para condicionar nossas ações no mundo. Fazem isso de maneira bastante sutil: a metáfora que usamos para nos referir a um determinado aspecto da realidade engendra um conjunto de disposições ou atitudes correlatas, porque ilumina ou evidencia certos aspectos da experiência ao mesmo tempo em que esconde outros. Para ficarmos apenas em um exemplo (há vários): quando o Globo estampa, na capa de sua edição de 18 de junho, o título “A batalha da Alerj”, em referência ao conflito ocorrido ao final do protesto da noite anterior, está inspirando os leitores a entender as ações de vandalismo como se fossem atos de guerra. Seria possível objetar, lembrando que a metáfora da guerra (“guerra judicial”, fulano é um “guerreiro” etc.) é de uso generalizado. Verdade, mas isso não esvazia o argumento. Que uma metáfora tenha sido assimilada pelo senso comum como se descrição literal fosse é um motivo a mais, e não a menos, para que reconheçamos a força e o alcance do enquadramento que ela opera, sobretudo quando aplicada em um contexto menos usual. Ademais, uma metáfora aparentemente banal pode facilmente abrir a porta para outros termos oriundos de seu campo semântico, intensificando o efeito metafórico cumulativo e produzindo ramificações nada banais. Se o protesto do dia 17 de junho foi uma “batalha”, é porque faz parte de uma “guerra” mais ampla, e se estamos em “guerra”, então a adoção de um vocabulário que comporta noções como a de “inimigo” e “exército” é mais do que justificada. Assim, a representação dos protestos nos termos da metáfora da guerra contribui não apenas para configurar uma agenda pública centrada na demanda por mais repressão, mas também a legitimá-la. Sendo a guerra, por definição, o vazio do Direito, fica aberto o caminho para todo tipo de abuso por parte do Estado, vide a brutalidade gratuita exaustivamente documentada, as detenções arbitrárias e as acusações forjadas de “formação de quadrilha”.
Não se trata, evidentemente, de uma novidade. Já estamos em “guerra contra o tráfico” há tempos. Mas é curioso notar como o procedimento é semelhante, assim como as estratégias utilizadas para legitimá-lo. Quando o Secretário de Segurança José Mariano Beltrame afirma que “Não há como separar o vândalo do manifestante”, está reproduzindo a retórica que desde sempre autoriza o massacre imposto a comunidades durante operações policiais (“a PM não tem como saber quem é bandido ou trabalhador durante um tiroteio…”). Amplificada pelo alcance massivo de jornais e noticiários de TV, a circulação desta retórica estruturada em torno da ideia de confronto, e portanto tributária de um vocabulário que prioriza a violência em detrimento da paz, poderá então cumprir a função de dessensibilizar o senso comum para questões relativas à vida daqueles que, no Brasil, são tratados como cidadãos de segunda categoria, para os quais os direitos constitucionais não se aplicariam realmente. Se as classes média e alta podem conviver tranquilamente com a ideia de que bala perdida no asfalto é escândalo, mas efeito colateral na favela, é somente porque foram acostumadas, ao nível da linguagem, a compreender e interpretar a realidade social através de um vocabulário que sanciona este desequilíbrio cognitivo. A linguagem, a violência verbal que ela veicula, não é uma distorção secundária que viria ser acrescida à uma realidade dada de antemão; é fonte de processos de subjetivação, através dos quais uma sociedade define um padrão em relação ao qual certos eventos ou comportamentos aparecerão então como violentos. Um vocabulário militarizado é uma das condições de possibilidade de uma polícia militarizada.
Há algo de profundamente perturbador nesta dinâmica midiática de elogio-e-condenação da violência, além da constatação um tanto elementar de que ela se retro-alimenta. Neste ponto, a reação habitual consiste em dizer que não é nada disto, que tudo o que se pede é o protesto pacífico, o diálogo produtivo, que não atrapalha o direito de ir e vir igualmente legítimo do restante da população. Contudo, se tivermos em mente que democracia é dissenso e fricção, não apenas o momento asséptico do voto, então o transtorno que a política feita nas ruas eventualmente causa não é um efeito colateral indesejável, mas um elemento constitutivo imprescindível: trata-se de forçar o reconhecimento de uma voz que, se não fosse o tempo todo silenciada ou ignorada, não precisaria estar ali, gritando, para se fazer ouvida. Apoiar as manifestações, mas com a condição de querer reduzi-las a uma conversa com dia e hora marcados, longe da ressonância espontânea das ruas, é como pedir um café descafeinado, como diria Slavoj Zizek.
Dirão que estou negando a violência dos vândalos. Longe disso; apenas não perderei tempo denunciando o óbvio. A condenação dogmática do vandalismo, ou a exigência inapelável de seu repúdio absoluto, é talvez o melhor modo de recusar a difícil tarefa de pensá-lo, e é justamente nesta recusa que devemos procurar a explicação para o pânico moral do qual os mascarados são objeto. Lacan certa vez observou que o imenso ciúme que o marido sente de sua mulher continuará sendo patológico mesmo que depois fique confirmado que ela de fato o traía. Ou seja, mesmo que todas as ações de vandalismo tenham se dado exatamente com a gravidade que a imprensa descreveu, isto ainda assim não anula o fato de que a sua descrição, o modo como são enquadrados dentro de uma narrativa, obedece a um princípio que não diz respeito ao vândalo em si, mas sim à necessidade de exagerar sua condição ameaçadora de vilão, necessidade esta que é anterior a qualquer ato real acontecido nas ruas desde junho. Nesta perspectiva, o que importa é o investimento da grande mídia na figura simbólica do vândalo, não a materialização concreta de um punhado de indivíduos que cobrem os rostos e desafiam a polícia. Tal investimento é ele mesmo um sintoma, uma manifestação de um medo anterior que funda e ao mesmo tempo corrobora a necessidade do próprio investimento: o medo do povo, da massa, de sua potência constituinte. Em suma, a boa e velha fantasia demófoba. É assim que, ao transformar a violência sem rosto da massa em fio condutor da narrativa sobre os protestos, a mídia conta uma grande mentira, apesar de estar dizendo a verdade – porque os motivos pelos quais ela o faz são fictícios.
Esta fantasia, o medo que ela veicula, é tão antiga quanto a própria democracia. Atualiza-se de tempos em tempos, ganhando materialidade de acordo com o sabor da ocasião; os “mascarados” de agora são só sua projeção mais recente. Neste sentido, o verdadeiro objeto do pânico moral que o discurso midiático ajuda a construir não é o vândalo de carne e osso, mas o que ele representa, e o que ele representa é a afirmação da fissura aberta pelo ato realmente político, isto é, a reivindicação da parte pelos sem-parte, que instaura o litígio que deverá reordenar a contagem do todo (Ranciére). A reinvenção do transporte público expressa no passe livre é uma daquelas demandas pontuais que, se atendidas, implicariam numa série de alterações estruturais, e não apenas conjunturais, bastante significativas. Por isso incomodam tanto, por isso tiram o sono dos poderes constituídos, assombrando-os como fantasmas. O sociólogo Fernando Perlatto resumiu bem este ponto quando observou que a demanda do passe livre faz mais do que evidenciar a falência da solução de mercado vigente: instaura um debate sobre transporte público que coloca como questão central a reflexão sobre o direito às cidades. Trata-se de um debate que exige pensar a relação entre indivíduos e coletividades; que obriga à reflexão sobre a reforma política, dado que levanta a temática do financiamento de campanhas (em muitos estados, os poderes executivos e legislativos são financiados por empresas de ônibus); que coloca em pauta a questão do meio-ambiente e da sustentabilidade (a necessidade de encarar a redução da poluição não como efeito colateral benfazejo do transporte público, mas como uma de suas razões de ser); e, last but not least, um debate que “evidencia a necessidade de pensarmos as políticas públicas não apenas como questões técnicas, mas como decisões políticas.”
A repolitização da política: é esta a exigência de fundo dos manifestantes nas ruas. É o que fazem, em ato, os jovens que ocupam a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. No entanto, a julgar pelas notícias nos jornais, parece mais relevante que tenham pichado um quadro, ou impedido vereadores de saírem de suas salas; O Globo chegou a falar em “cárcere privado”, numa clara tentativa de criminalizar a ocupação. Se tivessem lido Tocqueville, autor francês do século XIX que escreveu um dos mais belos elogios a esta democracia da qual os grandes jornais de hoje se dizem defensores fervorosos, os responsáveis pela feitura das manchetes saberiam que quanto maior a capacidade de associação e ação dos representados, menores as chances de que a representação possa ser usurpada em prol de interesses particulares. Assim, ao asfixiar o único elemento verdadeiramente político dos protestos, ao criminalizar a ação dos (sub)representados, a grande mídia alimenta a própria crise de representação, porque ajuda a reduzir a democracia ao momento esparso e solitário do voto. Mas é precisamente isto o que os manifestantes estão a gritar – o voto não basta! Compreensível que rejeitem os jornais, dizendo “Não me representa”.
Claro está que grandes veículos de comunicação são necessários ao funcionamento de uma democracia. Por sua estrutura profissional, têm a capacidade de fiscalizar o poder, investigar e trazer a público questões que de outra forma permaneceriam ignoradas. Também é evidente que abrem espaço ao contraditório, como atestam as colunas regulares de Vladimir Safatle (Folha de São Paulo) e Francisco Bosco (O Globo), por exemplo. Igualmente claro, entretanto, é o fato de que esta mesma proximidade com o poder às vezes serve para acobertá-lo, e que o mínimo espaço concedido ao dissenso é justamente a exceção que permite aos jornais se dizerem “plurais”. Tudo isto só torna a contradição que venho apontando ainda mais evidente: que a grande mídia, apesar de indispensável à democracia, pode eventualmente lhe ser prejudicial. É o que vem acontecendo no Brasil desde Junho. E é também o que, por contraste, permite apreciar a relevância política da internet, sobretudo das iniciativas de transmissão dos protestos via twitcam, que abriram a possibilidade de os acompanharmos enquanto acontecem, sem o filtro posterior da edição.
Não é exatamente uma novidade. Já em 1999 a Indymedia mostrava o caminho, seguido depois no Brasil pelo Centro de Mídia Independente (CMI). Mas foi a Mídia Ninja que ganhou notoriedade com as recentes manifestações, embora não seja a única iniciativa do tipo a cobri-las (há indivíduos fazendo o mesmo, assim como grupos desde antes estabelecidos, como o jornal A Nova Democracia). Não havendo aqui espaço para uma análise mais aprofundada destas transmissões, farei apenas alguns comentários pontuais. Debater se o que fazem é ou não jornalismo já implica em subscrever a noção de jornalismo que importa rejeitar, porque calcada no mito da imparcialidade. A questão não é o grau de objetividade da descrição, o quão próxima estaria do “ponto-de-vista do olho de Deus”, para usar a expressão de Hilary Putnam, mas sim a que desígnios serve, os possíveis a que dá ensejo, os horizontes que deixa entrever. Aí o critério de validação: a novidade transmitida via twitcam desconsagrou o discurso da grande mídia, quebrou-lhe o monopólio da produção da Verdade, produziu blasfêmia. Fez isto desde uma miríade de perspectivas, não a partir de um lugar de fala centralizado, o que implicaria em enfrentar as mesmas armadilhas da grande imprensa, só que com sinal invertido. Extrapolou a fronteira inicial de grupo para converter-se numa performance – ninjas são todos aqueles que, saindo as ruas em protesto ou os acompanhando de casa, utilizam a tecnologia disponível para inverter o big brotherOrwelliano e vigiar os poderosos.
A narrativa que possui uma coloração específica, um tom característico que a singularize, já se afasta do discurso analítico, de caráter racional e dogmático. Em outras palavras, a atitude que se quer distanciada, que se arvora na pretensão de objetividade ou neutralidade, não pode se instalar lá onde a linguagem exibe cor e sabor peculiares. Ao assumir um colorido que a singulariza, a narrativa (permitam-me a generalização) dos ninjas se posiciona ao lado, e não acima, das vozes de seus “objetos”, os manifestantes, e é isto que lhes permite aparecerem como aquilo que de fato são, como sujeitos heterogêneos, e não uma massa amorfa sobre a qual se projetam as fantasias demófobas de um poder que se sabe ameaçado. As fronteiras entre ninjas e manifestantes são mais porosas, ou menos definidas, mas continuam existindo. Abrem um espaço de enunciação polifônica, sem no entanto diluir a multiplicidade de vozes num todo homogêneo. Mais do que simplesmente ampliar o escopo de vozes, trata-se de redefinir as condições do diálogo – o que é, em si mesmo, um ato político.
[N.A] Devo várias passagens deste artigo aos amigos Diogo Lyra, Fernando Perlatto e Sergio Bruno Martins, a quem agradeço pelas críticas e sugestões feitas.